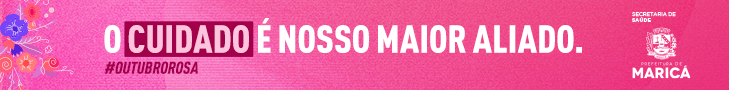Quando D. Pedro I proclamou a Independência em 1822, Pedro Américo nem era nascido. Ao ser convidado, em 1885, para pintar um quadro sobre a mais importante data cívica do país, o artista paraibano da cidade de Areia pediu alguns dias para pensar. Aos 42 anos e morando na Itália naquela época, decidiu vir ao Brasil.
Visitou o local do grito do Ipiranga, pesquisou a indumentária da Guarda de Honra e entrevistou as poucas testemunhas que continuavam vivas. Logo se deu conta de que seria praticamente impossível reproduzir com fidelidade histórica o que acontecera naquele 7 de setembro.
“Todos os integrantes da comitiva estavam viajando em mulas. Era o animal mais acostumado a viagens longas e por terrenos sinuosos. Mas, para dar dignidade à cena, [Américo] optou por representá-los montados a cavalo”, relata a jornalista Lúcia Kluck Stumpf, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP).
Naquele dia, Pedro I estaria sofrendo um desarranjo intestinal (ou “incômodo gástrico”, nas palavras do pintor). Mas seria injusto com o futuro imperador retratá-lo com uma fisionomia que denotasse essa condição. “Essas alterações eram conscientes e condizentes com a intenção de fixar na tela uma cena digna de figurar na memória nacional”, analisa Stumpf, que é coautora do livro O Sequestro da Independência: Uma História da Construção do Mito do Sete de Setembro, publicado em agosto pela Companhia das Letras.
Inspirado no quadro 1807, Friedland (1875), do pintor francês Ernest Meissonier, sobre uma das mais importantes batalhas vencidas por Napoleão Bonaparte, Pedro Américo transformou o que não passava de uma parada forçada no trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo em uma cena épica e grandiosa. “A verdade inspira, mas não escraviza o pintor”, escreveu o paraibano em 1888. Reza a lenda que, entre outros compromissos, D. Pedro teria ido a Santos (SP) visitar sua amante, Domitila de Castro.
A comitiva que o acompanhava na viagem de 660 quilômetros que teve início em 14 de agosto não era das mais numerosas. Faziam parte dela, entre alguns poucos homens, o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, comandante da Guarda de Honra que escoltava o príncipe regente; o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, o religioso da comitiva; e Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, melhor amigo do primeiro imperador do Brasil.
Passava das quatro da tarde quando, segundo relato do padre Belchior, D. Pedro apeou da mula para “atender mais um chamado da natureza”. Estava prestes a prosseguir viagem quando recebeu, das mãos de Paulo Bregaro, o carteiro oficial da família real, duas cartas: uma da princesa Leopoldina e outra de José Bonifácio.
As duas o aconselhavam a romper com Portugal, que ameaçava rebaixar o Brasil de reino para colônia. “Senhor, não temos mais nada a esperar. Os dados estão lançados”, alertava o ministro. Ali mesmo, às margens do Ipiranga, desembainhou sua espada e gritou: “Independência ou Morte!”.
Há mais detalhes do episódio que o quadro de Pedro Américo não mostra. “A figura do carroceiro que, supostamente, representaria o ‘povo’ era, originalmente, um homem preto. Foi a comissão encarregada de avaliar a obra que ‘sugeriu’ a Pedro Américo que o substituísse por um ‘caipira’”, revela o jornalista e escritor Eduardo Bueno, autor do Dicionário da Independência — 200 Anos em 200 Verbetes (Piu). “Ainda assim, ele colocou a diminuta figura de um negro conduzindo uma tropa de mulas no sentido oposto e de costas para o centro das ações.Foi um recado do quanto os escravizados foram deixados de fora do processo de emancipação do Brasil.”
Ao aceitar o convite para produzir a obra, Américo assinou contrato com a comissão do Ipiranga, responsável pela construção do palácio na capital paulista que abrigaria a pintura. Teria três anos para entregar a encomenda. Pelo trabalho, ganharia 30 contos de réis, algo em torno de R$ 6,7 milhões, segundo Bruno Diniz , especialista em numismática e youtuber. Em março de 1888, concluiu a arte, pintada em seu estúdio em Florença.
Batizado originalmente de O Brado do Ipiranga, o quadro foi exposto pela primeira vez em 8 de abril de 1888, na Itália, em uma solenidade que contou com a presença do imperador Pedro II. Três meses depois, em 14 de julho, a tela desembarcou no Porto de Santos. Mas só foi apresentada ao público brasileiro em 7 de setembro de 1895, quando o Museu do Ipiranga foi inaugurado.
Em exposição no Salão Nobre, o quadro Independência ou Morte, de 4,15 metros de altura por 7,60 metros de largura, se transformou no mais popular símbolo do 7 de setembro. Foi reproduzido em livros didáticos e deu origem a um sem-número de produtos: selos, moedas, relógios e até tapetes.
“O tema da Independência tem uma força enorme. Volta e meia, é reinventado, despertando paixões e provocando polêmicas”, observa o historiador João Paulo Pimenta, professor do Departamento de História da USP e autor de Independência do Brasil (Contexto). “A pintura do Pedro Américo não é uma descrição fiel da realidade. Nem tinha essa pretensão. A intenção do artista era despertar um sentimento de nacionalidade e uma sensação de pertencimento à nação brasileira no espectador.”
A tela inspirou até cartunistas. Numa charge de Duke de 2014, Dom Pedro I pede: “Espera um pouquinho que agora vou fazer uma selfie!”. Em outra, de Davi Gonzaga da Silva, publicada em 2020, o monarca diz: “Vai, Corinthians!!!”.
Mas nem sempre o humor referente à data foi encarado com bons olhos. Numa charge de Jaguar divulgada em 1977, o monarca grita: “Eu quero mocotó!”. Por causa dela, o chargista e outros integrantes do jornal O Pasquim, como Sérgio Cabral e Paulo Francis, foram presos na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, onde permaneceram por dois meses.
Celebração para quem?
Ainda em 1823, por sugestão da Assembleia Constituinte, o 7 de setembro virou feriado. Nas chamadas datas redondas, a efeméride ganha ainda mais destaque, com direito a festejos cívicos e desfiles militares. Foi assim em 1872, 1922 e 1972, quando o Brasil comemorou, respectivamente, o cinquentenário, o centenário e o sesquicentenário da Independência.
“O ‘7 de setembro’ é uma invenção da elite política que construiu o Estado e formou a nação e, nela, meteu suas datas e seus heróis — machos, brancos e ricos”, opina o historiador Jurandir Malerba, doutor em História Social e autor de Almanaque do Brasil Nos Tempos da Independência (Ática).
Em 1872, quem estava no poder era D. Pedro II, o filho do homem que deu o brado retumbante que libertou o Brasil do jugo de Portugal. Apesar disso, a celebração foi tímida: houve apenas a inauguração de uma estátua de José Bonifácio, assinada pelo escultor francês Louis Rochet, e a exposição da pintura Batalha de Campo Grande, de Pedro Américo, em uma mostra na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro.
Em 1922, o ano do centenário, o Brasil já tinha deixado de ser monarquia. O governo do presidente Epitácio Pessoa organizou a Exposição Internacional, com o objetivo de apresentar o Brasil ao mundo como uma república jovem e moderna. De 7 de setembro de 1922 a 23 de março de 1923, a mostra contou com estandes de 13 países e atraiu cerca de 3 milhões de pessoas.
Foi inaugurado, também, o Monumento do Ipiranga, do escultor italiano Ettore Ximenes, e concluído o quadro Primeiros Sons do Hino da Independência, do pintor Augusto Bracet. Dizem que, na noite de 14 de setembro de 1822, assim que chegou ao Rio de Janeiro, D. Pedro sentou-se ao cravo (espécie de piano antigo) e compôs a melodia do Hino da Independência, aquele do refrão “Brava gente brasileira! / Longe vá, temor servil / Ou ficar a pátria livre / Ou morrer pelo Brasil”. Os versos são do poeta Evaristo da Veiga.
Por ocasião do aniversário de 150 anos, em 1972, o Brasil vivia uma ditadura militar. Houve de tudo: do torneio de futebol Taça Independência, que reuniu seleções de 20 países e foi conquistada pelo Brasil (1 a 0, contra Portugal), à estreia de Independência ou Morte!, superprodução de Carlos Coimbra que levou às telas a história de D. Pedro.
Naquele mesmo ano, o general Emílio Garrastazu Médici trouxe de Portugal os restos mortais de D. Pedro, sem o coração, e os depositou na cripta do Monumento do Ipiranga. Até então, seu corpo estava na igreja de São Vicente, em Lisboa. No Monumento do Ipiranga, estão sepultadas também suas duas esposas: D. Leopoldina e D. Amélia.
Passados 50 anos do traslado dos ossos de D. Pedro, o governo do presidente Jair Bolsonaro resolveu trazer de Portugal o coração embalsamado do imperador do Brasil para ser exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Guardado a cinco chaves desde 1835 em uma igreja na cidade do Porto, o órgão desembarcou no último dia 22 de agosto a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi recebido com honras de chefe de Estado — e sob críticas, já que os custos do traslado ficaram todos a cargo do governo federal.
As comemorações incluem, ainda, a reabertura do Museu do Ipiranga, fechado desde 2013. A peça mais importante do acervo de 3,5 mil obras, o quadro Independência ou Morte, passou por restauração. Sob os cuidados da restauradora Yara Petrella, incluiu, entre outras técnicas, a análise química das tintas e uma varredura na tela com luz infravermelha.
Durante o processo de restauro, que levou quase três anos para ser concluído, os pesquisadores descobriram, entre outros achados, que Pedro Américo mudou a assinatura de lugar: do caixote de madeira no carro de bois para uma pedra à beira do rio, no canto esquerdo da tela. O custo total da reforma, incluindo a restauração do quadro, é estimado em R$ 211 milhões.
Às margens da incerteza
Por que, afinal, ainda comemoramos o 7 de setembro? “Não para exaltar fatos ou heróis que se perderam no tempo. Mas para recuperar os significados de liberdade e cidadania, e propor expectativas de futuro que possam atender as demandas por igualdade e justiça social no presente”, responde a historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira, doutora em História Social e autora de O Brado do Ipiranga (EDUSP) e 7 de Setembro de 1822: A Independência do Brasil (Companhia Editora Nacional).
No mês em que a Independência completa dois séculos, a opinião de outros especialistas para a pergunta do parágrafo anterior se divide. “Sim, temos algo a comemorar. Não falimos como nação. Não nos livramos de uma metrópole para nos subordinarmos a outra”, defende o escritor Paulo Rezzutti, autor de Independência: A História Não Contada — A Construção do Brasil: 1500-1825 (LeYa). “Uma das maiores conquistas foi uma constituição arrojada para a época, com educação para todos e direitos individuais garantidos. Um dos piores desacertos foi a manutenção da legalidade da mão de obra escravizada por tantos anos”.
“Não há o que comemorar”, rebate o historiador José Murilo de Carvalho, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). “Desde a Independência, nos orgulhávamos de nossa grandeza física, riqueza, beleza natural e cordialidade humana. O que fizemos? Derrubamos as florestas, secamos os rios, poluímos o ar e acumulamos desigualdades. Nosso maior fracasso foi não termos criado um país mais igualitário e menos violento. A grande interrogação é: chegamos a um ponto em que não há mais retorno?”.
Mais do que uma festa cívica, o Bicentenário periga se transformar em ato golpista. O presidente Jair Bolsonaro tem convocado seus apoiadores a irem às ruas no próximo dia 7 de setembro.
Na convenção do partido que oficializou sua candidatura à reeleição, no dia 24 de julho, atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo”, discursou. Na Marcha para Jesus, em 13 de agosto, questionou a credibilidade das urnas eletrônicas. “Vamos dar um grito muito forte dizendo a quem pertence essa nação”, declarou.
Se dependesse do chefe do Executivo, a parada militar do Bicentenário, em vez de acontecer na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, seria realizada na Avenida Atlântica, em Copacabana. “A Independência foi ‘sequestrada’ em 1922, pela elite paulista; em 1972, pela ditadura militar; em 2022, pelo governo Bolsonaro…”, avalia a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, professora da USP e coautora do livro O Sequestro da Independência. “O atual presidente ‘sequestrou’ a bandeira do Brasil, a camisa da Seleção e até conceitos como ‘república’, ‘democracia’ e ‘liberdade’.”
A um mês do primeiro turno das eleições, um dos temores do próximo 7 de setembro é de que, diante do resultado das urnas, os apoiadores de Bolsonaro façam em Brasília algo parecido com o que os de Donald Trump fizeram em Washington: invadir o Capitólio, o equivalente ao Congresso Nacional. A ação nos EUA terminou com cinco mortos e 138 feridos.
“Não dá para saber com antecedência o que vai acontecer. Pode-se esperar tudo de Bolsonaro”, alerta Luiz Bernardo Pericás, doutor em História Econômica e um dos organizadores do livro Independência do Brasil — A História que Não Terminou (Boitempo Editorial). “O Brasil de hoje não é o mesmo de 1964. A possibilidade de êxito de um golpe é pequena, e o preço a pagar seria alto. Uma tentativa de golpe, portanto, é cada vez mais improvável. Mas, se ele tentar, haverá resistência”.
Não é a primeira vez que Jair Bolsonaro tenta “sequestrar” o 7 de Setembro. Na manhã de 31 de agosto de 2021, em Uberlândia (MG), o presidente montou a cavalo, ajeitou na sela a bandeira do Brasil e, tal e qual Pedro I no quadro de Pedro Américo, ergueu um troféu como se fosse uma espada. “Chegou a hora de nós, no dia 7, nos tornarmos independentes para valer”, esbravejou.
Em 7 de setembro de 2021, participou de duas manifestações antidemocráticas: uma em Brasília, sede do governo federal; outra em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Chamou a eleição de “farsa”, xingou o ministro Alexandre de Moraes de “canalha” e avisou que apenas Deus poderia tirá-lo da Presidência. “Só saio preso, morto ou com vitória”, avisou. Com roupas nas cores verde e amarela, militantes seguraram cartazes dizendo: “Intervenção Militar Já”, “Voto Impresso Auditável” e “STF: Vergonha Nacional”.
“O que me preocupa não é se as pessoas vão aceitar ou não essa visão tacanha e excludente da história do Brasil. Acho que não vão. Mesmo porque a população está mais preocupada com inflação, desemprego e fome”, analisa o historiador Bruno Leal, professor de História Contemporânea na Universidade de Brasília (UnB) e um dos organizadores de Várias Faces da Independência do Brasil (Contexto). “O que me preocupa é se Bolsonaro vai aceitar uma provável derrota nas urnas e o que ele pode fazer caso não aceite. Algo de muito violento e autoritário pode estar por vir.”
A diferença para o 7 de setembro de 200 anos atrás é que, agora, o país inteiro poderá assistir ao que realmente vai acontecer. E nenhuma obra de arte poderá mudar a realidade.
Fonte: Galileu