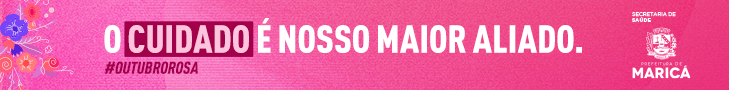Vocês conhecem a história de Potifar? Potifar era um alto oficial da corte do Faraó e uma dramática passagem de sua vida é contada na Bíblia, em Gênesis 39. Ele pode não ser muito conhecido popularmente, mas a história que o tornou nome de síndrome está espalhada por aí até os dias de hoje. Potifar era casado e trouxe para viver em sua casa um eficiente e garboso escravo chamado José. José logo se tornou o mais apreciado escravo de Potifar e os dois construíram uma amizade e uma relação de confiança.
A mulher de Potifar (que aparece assim mesmo na Bíblia, sem nome) logo começou a notar José como um homem a quem ela deveria seduzir e conquistar. Egoísta e dissimulada, ela passou a forçar uma aproximação com o escravo e um dia, após uma outra tentativa frustrada, fez com que o marido acreditasse que tinha sido estuprada. Potifar acreditou nela e condenou José à prisão, mantendo-o lá provavelmente para sempre (não há nenhum registro específico sobre o que teria acontecido em seguida). A mulher de Potifar venceu… e logo depois se tornou a “criadora” de uma perigosa prática.
Estou aqui contando essa história para vocês porque, no último dia 19 de julho, no lançamento do livro A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira, de Rosane Svartman, Walcyr Carrasco e a Professora Maria Immacolata Vassalo conversavam sobre os rumos da teledramaturgia, usando como referência direta, é claro, as raízes do gênero. Walcyr falava sobre como as novelas estão vivas até hoje porque a ficção que as constitui atravessa eras sendo relevante. Para provar seu ponto ele nos contou a história da mulher de Potifar.
Para Walcyr, era muito curioso que um clássico recurso da teledramaturgia – a mulher que forja um ataque para prejudicar outro personagem – tenha raízes bíblicas; e que continue sendo usado até os dias de hoje, incessantemente. Em sua argumentação não havia absolutamente nenhum resíduo crítico, pelo contrário. O que ele fazia era uma constatação: dos tempos remotos até agora, o que as audiências querem – o que nós queremos – é ouvir de novo e de novo as mesmas histórias. E é isso? É mesmo isso que a gente quer?
Potifarismos
Quem acompanha as telenovelas sabe que elas vivem dessa mimese maluca que se reconta em looping, sem nenhuma vergonha de ser recorrente. É inevitável pensar na telenovela sem colocar em perspectiva que ela segue uma ordem criativa básica; e essa ordem, inevitavelmente, acaba sendo chamada de “clichê’. O clichê – é importante lembrar – não passa de uma verdade exagerada, uma versão maximizada de uma evidência social e que acessá-lo não é nenhum pecado. De fato, o clichê é a matéria bruta da identificação emocional. Estranhamente, é por causa dele que você acredita.
A novela é um produto de reprodução do dia-a-dia, e bem por isso acaba sendo o tipo de obra que manipula os clichês mais abertamente; ou seja, sem os recursos fotográficos lúdicos e a liberdade estrutural típica do cinema, os clichês teledramatúrgicos não se “disfarçam” e o escancaramento de seu uso também leva à crítica imediata. Em exemplificação chula, as brigas por heranças em novelas são chamadas de clichês; enquanto as brigas por heranças na HBO são chamadas de “obras-primas”. Os clichês ainda estão ali, mas a camada de verniz nos impede de julgá-los.
É tudo uma busca por atribuição de valores. A TV busca sua profundidade – como se estivesse vivo o conto de Patrick Suskind sobre a artista plástica que definha porque não é mais “profunda” – e nós estamos atrás do mesmo rótulo quando consumimos esses produtos de qualificação garantida (por quem?). A novela está no mesmo jogo, mas sem capacidade de usar as mesmas peças. Se tem melhor fotografia não é mais novela, se não tem núcleo cômico não é mais novela… se não tem a mulher de Potifar não é mais novela.
A lista de “coisas de novela” é imensa. Na verdade, a mulher que arma o falso estupro nem é um dos mais usados (o falso flagrante de traição é muito mais e a própria Rosane usou em Bom Sucesso). A paternidade desconhecida é um dos que estão em primeiro lugar; assim como o “quem matou” e a armação para que o protagonista vá preso. De coisas falsas as novelas estão cheias e recentemente, Vai Na Fé provou que lançar mão da cartilha pode ser um murro na dignidade de uma obra.
Vai No Fake
Rosane Svartman é uma autora que fez do horário das 19h o seu templo. Ela começou muito bem com Totalmente Demais e se consolidou com Bom Sucesso. Contudo, Vai Na Fé talvez seja o seu sucesso mais contundente; sobretudo por conta de uma característica comum às novelas de sucesso: ela tem personagens que serão sempre lembrados e pelo menos uma que já entrou no hall de acertos unânimes. Essa personagem se chama Kate (Clara Moneke).
Kate começou a novela como alívio cômico, representando a figura da jovem confiante e ligeiramente inconsequente; deslumbrada com privilégios que sua origem suburbana não poderia lhe dar. Ela começou assim, mas evoluiu depois de viver de perto os traumas do abuso e de se apaixonar de verdade por um rapaz que oferecia desafios na hora de construir uma relação. Os traços de maturidade foram chegando com a busca por um trabalho digno e com a coragem de enfrentar as consequências de seus erros.
Todo bom personagem é assim; ele vai de um ponto a outro, ele se transforma na medida dessa evolução e precisa ser assim, caso contrário ele não é um “bom personagem”, ele é SÓ um personagem, daqueles que a gente também conhece bem, que passam 200 capítulos andando em círculos. O crescimento e a maturidade de Kate são notórios; e exatamente por isso, quando ela sugere ao namorado forjar um sequestro para “se vingar” do pai dele e arrancar algum dinheiro, a surpresa é inevitável. Não só a ideia é estapafúrdia como é TOTALMENTE estapafúrdia; argumentada com um “sempre fazem isso em novelas” que desconsidera o óbvio: quando isso deu certo em novelas?
Quando Kate faz a volta na própria evolução e age com inconsequência indiscriminada, o texto revela descuido. As justificativas de que ela faria isso porque ainda é imatura desconsideram a jornada da personagem, seus aprendizados e progressos. A justificativa de que isso terá uma “função posterior” são tão ruins quanto, visto que nenhum personagem deveria ser descaracterizado em nome de um enredo que não foi escrito quando era cabível. Fica mais indigesto quando se coloca em perspectiva o resíduo motivacional conspiratório: a obrigação de criar histórias que preencham capítulos.
Vai Na Fé é um bálsamo na grade da TV Globo, mas vem de um período de decisões questionáveis. O julgamento de Theo (Emílio Dantas) durou o tempo certo para ser crível, mas resultou na vitória do vilão, o que fez o público se sentir enganado. Ao mesmo tempo, o filme protagonizado por Wilma (Renata Sorrah) derrapou no pastelão enquanto tentava ser poético (sempre ficarei magoado com a decisão de não levar a personagem de volta para as novelas) e os números musicais que antes eram dosados corretamente, viraram uma muleta lúdica, um recurso repetitivo.
A novela não perderá sua boa reputação, mas a internet começou a torcer o nariz. A rede é implicante, mas há de se ter discernimento para perceber quando a reclamação procede, quando ela parte de percepções justas. Vai na Fé sempre foi abraçada e se agora há poréns, algum fenômeno está acontecendo. É incrível o que acontece em meio a tudo isso… Rosane e sua equipe conseguem um feito: quebrar o protocolo da forma e do texto em vários núcleos, desafiando a roda. Contudo, com coisas como o sequestro, cedem à síndrome teledramatúrgica da mulher de Potifar.
Shakespeare é o marco-zero de quase todas as histórias da humanidade, mas não é como se suas diretrizes fossem invencíveis. Hoje já somos capazes de viver sem uma mocinha que dependa única e exclusivamente do romance; somos capazes de viver sem um triângulo amoroso onipresente… sem um amor proibido por famílias inimigas. Somos sim, mas ainda não nas novelas. Nas novelas os clichês estão acorrentados em forma crua. Para as novelas, falta a dissimulação do verniz.